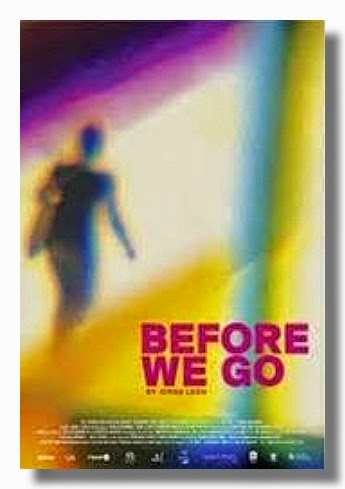 Os leitores de Lacan Quotidien (LQ 411) já sabem : a voz de Jacques Lacan soou em 5 de julho no Mucem, na competição oficial do Festival International de Cinema de Marseille (FID) na abertura, numa tela negra, do filme de Jorge Leòn, Before We Go. A sala estava repleta e notou-se a presença da ministra em exercício. No dia seguinte, reencontramos o cineasta para uma longa entrevista. H. C.
Os leitores de Lacan Quotidien (LQ 411) já sabem : a voz de Jacques Lacan soou em 5 de julho no Mucem, na competição oficial do Festival International de Cinema de Marseille (FID) na abertura, numa tela negra, do filme de Jorge Leòn, Before We Go. A sala estava repleta e notou-se a presença da ministra em exercício. No dia seguinte, reencontramos o cineasta para uma longa entrevista. H. C.
Hervé Castanet: Seu filme se abre com a voz de Lacan, enquanto os créditos rolam sobre o fundo negro. Por que essa escolha ?
Jorge Léon: Em minha visão, por um lado ela, a voz, abre alguma coisa do inconsciente e, por outro lado, é a voz de Lacan num momento preciso, a conferência de Louvain em 1972, e sobre um objeto preciso, a questão da morte. Eu havia ouvido há muito tempo e, quando comecei a trabalhar nesse filme, voltei muito naturalmente a ela. De fato, ela nem sempre esteve nesse lugar no filme: ela andou, deslocou-se durante a montagem. Num determinado momento, ela estava no coração do filme, mas num lugar um pouco forçado: Noël, um dos três personagens, foi filmado olhando a televisão, mas nada se via – esse não era Lacan – e, no campo contrário, eu havia montado a imagem da tela mostrando o rosto de Jacques Lacan palestrando … Isso ficou forte, pelo que ele dizia, sua presença, o tom de sua voz, mas eu fiquei com a impressão de que havia aí, algo que não ficava muito justo, porque eu fazia alguém olhar imagens, que ele não havia realmente visto. Depois, durante o trabalho, sua voz se impôs como abertura. Ela saiu do coração do filme, para assumir uma forma de prólogo.
H. C. : Você não teve necessidade da imagem de Lacan…
J. L. : Sim, e subitamente, sua voz me apareceu muito mais forte sob o fundo negro, como uma abertura. É o negro, mas é também o genérico, durante o qual aparecem os nomes e prenomes das pessoas, portanto isso é muito importante. Há aí alguma coisa que ressoa em relação ao que Lacan diz da morte: esta noção de ausência e, ao mesmo tempo, os nomes que permanecem …
H. C. : Lacan diz então que nós só podemos nos manter na vida, porque temos a ideia da morte, pois, diz ele em outro lugar, não nesta conferência, uma vida sem a morte conduziria a uma espécie de insuportável, até mesmo loucura – ele relata o sonho de uma jovem, caindo de uma vida para outra vida, sem que a morte pudesse interrompê-la. Você estaria de acordo em dizer que esta frase de Lacan em seu conteúdo, orientou o filme ?
J. L. : Sim, absolutamente, ela é essencial … O filme não é uma demonstração ou uma ilustração do que Lacan diz, mas sobretudo, um prolongamento. Assim, ela ressoa as questões da angústia e do terror, muito presentes durante a filmagem. O que é muito forte também, é que essa voz vem da tela : ela emerge como de um além túmulo e – eu já ouvi isso de parte dos espectadores – é uma voz que … congela; isso os confronta com algo muito angustiante. Isso não me espanta, mas para mim, é mais um wake up, algo que acorda.
H. C.: O seu filme apresenta três pessoas, dois homens e uma mulher ao final da vida. Seu projeto era fazê-los sair do lugar de cuidados paliativos, para levá-los ao teatro de la Monnaie, um lugar de prestígio, de criação, e fazê-los encontrar os artistas ?
J. L. : Exatamente, era verdadeiramente deslocar-se do espaço terapêutico para migrar, com esta necessidade, este desejo de travessia. Desde o início, antes mesmo de saber se o filme seria realizado, eu lhes tinha dito que gostava da ideia da migração. Que a fronteira que nós atravessaríamos não fosse apenas uma fronteira territorial, mas igualmente uma fronteira metafórica.
H. C. : Vocês lhes dá no filme, e no que constrói com eles, um lugar de personagem. Como se, de algum modo, você tratasse do mal-estar deles, seus sofrimentos, momentos extremamente penosos para a – você emprega a palavra – ficção.
J. L. : Sim, isso é essencial. É a intenção primeira: eu quis me retirar, um pouco, da tirania da realidade. Eu tenho a impressão que, quando mais se está sobrecarregado pelos elementos ligados à doença, e mais se permanece congelado por esta realidade, que acaba por nos paralisar, uma realidade mortífera acontece de fato. Não se trata para mim, de modo algum, de excluí-la, de negar esta realidade, pois que, ao contrário, para mim ela é extremamente presente. Era, antes de mais nada, uma questão de autorizar-se a transformá-la. A ficção, portanto, tem todo seu lugar, e diante do cinema, que foi um meio de chegar em minha relação com eles.
Por exemplo, antes mesmo de iniciar o projeto do filme, enquanto eu trabalhava com muitos residentes do lugar de cuidados paliativos, num atelier sobre um projeto de livro de retratos, eu lhes tinha colocado a questão: « Se vocês fossem levados a reviver suas vidas, quem ou o que, vocês seriam?» – e não: «Agora vocês vão morrer, que irão vocês se tornar …» Esta proposição foi acolhida com muita leveza por parte de todos os residentes, cada um começou a sonhar. O jogo era o de criar um retrato deles que fosse, que estivesse mais próximo da representação, que eles se faziam de uma espécie de retorno … de renovação deles mesmos. Então, evidentemente, com propostas como aquela de um gato, tal como se sonhava Lydia, estava fora de questão maquilá-la com bigodes, mas nós criamos uma decoração suntuosa, muito teatral, com peles, gatos que escalavam um pouco por toda parte, e ela, alongada como uma diva. Para cada retrato, os residentes explicavam a razão de sua escolha e estas traziam sempre, finalmente, à realidade do momento, quer dizer a que eles atravessavam, a que eles viviam, ao sofrimento que eles vivem – para Lydia, a do gato, é porque os gatos recebem constantemente carícias e ela teve falta disso toda a sua vida. Através da ficção dos retratos, chegou-se a tocar em coisas extremamente essenciais. Com Lydia, era o tátil e isso está muito forte no filme, porque se sente que ela tem muito a demanda de um contato. Nada desses retratos se encontra, falando propriamente, no filme, mas foram etapas que me levaram a precisar a dimensão da ficção. Os meios empregados são muito modestos, porque se encontram, ao mesmo tempo, numa economia e configurações relativamente precárias, frágeis.
Esta ficção instala-se diferentemente em função dos indivíduos e de sua singularidade. Cada um vem com seu imaginário, mas igualmente com seu cotidiano. Para as cenas em que eles estão em suas casas, não havia dúvida, eu lhes observava primeiro : eu havia lhes pedido que escrevessem uma carta na qual descrevessem seu dia, seu cotidiano, não apenas o mais precisamente possível, mas também sabendo que o que eles escreveriam era o que eles aceitassem que eu visse, que eu filmasse. Estas cartas esboçam, determinam, o modo do filme de cinema : eu pensei os planos e as sequências em função do que eu lia, daquilo que me era dado.
H. C. : Quando você fala de ficção, me parece que eles estão aí para construir algo que não está lá. Claro, eles abordam seu sofrimento, mas você lhes permite construir uma ficção. É um imaginário ativo, não se trata de simplesmente de esvaziar seu saco, mas de, esvaziando-o, construir quase um cenário. Você os fez não apenas atores, me parece, mas autores de sua própria vida.
J. L. : Absolutamente. Era muito claro que me seria necessário, que eu queria estar a serviço disso com, apesar de tudo, um saber ligado à prática do cineasta. Eu vinha com estas ferramentas, mas eles vinham com seu próprio saber e sobretudo, com seu próprio enigma, que é uma dimensão essencial para mim. O que me atraiu talvez, seja um enigma totalmente fantasmático, mas havia aí alguma coisa em relação à radicalidade e um saber da parte deles. Não um saber intelectual : alguém, um dia lhes disse : « Sinto muito, mas a ciência nada mais pode fazer por você ». Sem saber dizer, nós nos sabemos mortais, mas a mim, por exemplo, ainda não se fez aquele anúncio. A meus olhos, isso os movia para uma espécie de zona enigmática e e eu quis, verdadeiramente, me aproximar deste enigma. Eu não tive resposta, não procurei uma em todos os casos, formulada, mas isso tem sido o motor. A partir do momento em que eu penetrei neste espaço, eles vieram com seu saber, e me informaram, de um certo modo, progressivamente, de uma série de elementos. Mas tudo é representado de modo extremamente frágil, tênue… às vezes era uma conversação, às vezes uma situação…
H. C. : Você evita o que teria podido ser a armadilha do tema e dos personagens, seja o testemunho sobre sua doença ou as discussões psicológicas. As intervenções pragmáticas de seus personagens saem de um discurso prático, que não esta aprisionado numa psicologia, que não envia a uma explicação sobre a dor, o insuportável. Você insiste nos movimentos, situações. Me parece, ao menos a partir de nosso campo, que esse é seu modo de cortar certa psicologia, que viria com questões ou frases feitas.
J. L. : Estava fora de questão entrar nessa dimensão. Em determinados momentos da filmagem, colaboradores exprimiam o desejo de compartilhar ; essa relação com a morte emergia em todo o mundo e eu senti que havia aí uma necessidade de palavra. Eu me disse: filmemos. Eu queria manter isso numa dinâmica criativa, sem saber se isso teria seu lugar no filme.
E com efeito, quando as pessoas começaram a se exprimir através de palavras, isso não era em absoluto o que eu desejava e, tanto encontrei pessoas absolutamente formidáveis, quanto desde que este espaço foi criado, esta palavra não era, a meus olhos, uma palavra verdadeira. Eu tinha a impressão de que eram um pouco as coisas recolhidas do exterior, do coletivo – o «eu (je)» jamais aparecia. Eu disse a mim mesmo, não posso, não conservarei isso. Sobra talvez um fragmento dessa sequência: a cena final no telhado …
A seguir…
Transcrição feita por Françoise Biasotto e Patrick Roux
em 10 de julho de 2014.








