Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2013 – 09h 16 [GMT+1]
NÚMERO 361
Eu não teria perdido um seminário por nada no mundo – Philippe Sollers
Ganharemos porque não temos outra escolha – Agnès Aflalo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Variações sobre o traumatismo –
Sobre minha entrevista sobre o trauma*
Sergio Zamora
Primeiramente, devo dizer que o primeiro a ficar surpreso após minha entrevista, fui eu mesmo. Quando me convidaram, eu considerei isso como algo interessante, sem mais. Pensei, simplesmente, que na medida em que isto me permitiria falar de meus livros, era preciso fazê-lo. Eu não preparei nada porque conhecia bem o assunto que seria abordado e porque – e este foi meu erro – eu não via o que isto poderia trazer de novo. E sem dúvida, o fato das coisas terem se passado assim, é um bem, pois fui para a entrevista sem a priori…
 Apesar disto, minha entrevista teve ao menos dois efeitos. O primeiro, pessoal, deu uma forma mais precisa a uma constatação que já remonta há muito anos, sobre o trauma ligado a minha vida clandestina no Chile, entre setembro de 1973 e maio de 1975, ano em que deixei meu país para sempre. Esta forma mais precisa me permitiu não apenas compreender melhor o que eu havia sofrido, mas de descrever de maneira mais simples uma experiência traumática. Curiosamente, o que eu disse em minha entrevista, eu o tinha em mim, mas eu nunca havia expressado. Colocá-lo em palavras – de uma forma mais ou menos construída e lhe dando um nome: um trauma – permitiu fazê-lo conhecer pelos outros. Algo que eu não havia feito antes – ou feito parcialmente, por exemplo, nas conversas com minha esposa, quando nos lembrávamos do que vivemos no Chile, ou mesmo em meus livros, onde eu havia mais ou menos descrito esta vivência.
Apesar disto, minha entrevista teve ao menos dois efeitos. O primeiro, pessoal, deu uma forma mais precisa a uma constatação que já remonta há muito anos, sobre o trauma ligado a minha vida clandestina no Chile, entre setembro de 1973 e maio de 1975, ano em que deixei meu país para sempre. Esta forma mais precisa me permitiu não apenas compreender melhor o que eu havia sofrido, mas de descrever de maneira mais simples uma experiência traumática. Curiosamente, o que eu disse em minha entrevista, eu o tinha em mim, mas eu nunca havia expressado. Colocá-lo em palavras – de uma forma mais ou menos construída e lhe dando um nome: um trauma – permitiu fazê-lo conhecer pelos outros. Algo que eu não havia feito antes – ou feito parcialmente, por exemplo, nas conversas com minha esposa, quando nos lembrávamos do que vivemos no Chile, ou mesmo em meus livros, onde eu havia mais ou menos descrito esta vivência.
Talvez isso mostre a diferença entre a descrição de um fato ou de um fenômeno e sua verdadeira compreensão. Às vezes, podemos descrever algo sem realmente compreender sua importância.
O segundo efeito, consequência direta do primeiro, fora a reação das pessoas para quem eu havia enviado minha entrevista e, muito particularmente, daquelas que conheceram uma situação parecida com a minha. Muitas mensagens e comentários de conhecidos e de amigos evocaram a relevância de falar de um assunto que, no passado, não era apresentado em nossas conversas ou discussões dos exilados.
Havíamos sempre privilegiado o “político” em relação a todo o resto que era, aos nossos olhos, de um interesse menor e, também, porque ele tinha uma forma de tabu imposto pelos partidos políticos: não se falava de nossas fraquezas. Um de meus amigos fez este comentário: “De certa forma – e era sem dúvida para nós uma forma de alienação -, quando discutíamos, nos interessávamos pelo que nosso interlocutor podia dizer, pelos comentários que ele podia fazer em relação a uma situação ou a um fato político, mas não nos preocupávamos com suas inquietudes profundas, com suas angústias, com sua família, etc.”
Eu tive também a surpresa de ver esposas de colegas (três pessoas, em três momentos diferentes) chorarem, apesar delas, enquanto comentavam minha entrevista. Eu devo confessar que essas situações, além de serem um pouco embaraçosas e inesperadas, não eran sem interesse. Uma vez acabado os choros, as três pessoas me disseram separadamente e, com quase as mesmas palavras, que o que eu havia vivido e sentido, em particular meus medos sobre minha esposa grávida e, em seguida de minha filha, – medos que foram para mim uma experiência traumática – elas também viveram isto e o sentiram em relação a seus companheiros e seus filhos. Elas guardaram para elas esse mal-estar sem ter realmente consciência, mas um desencadeador – minha entrevista – o fez reaparecer. Talvez o que vivemos tenha sido um trauma “dissimulado”, o qual se instalou em nós ao longo das semanas, meses e anos, sem que tenhamos nos dado conta e que se impregnou em nós como um mal-estar difícil de circunscrever.
Muitos de meus amigos disseram que eu tinha feito bem em não me colocar como “vítima” ao falar de minha tortura, porque mesmo que ela tenha sido terrível para mim, ela não era nada em comparação com o que aconteceu com aqueles que foram torturados durante semanas ou meses. Para eles, houve um antes e um depois da tortura e ela foi vivida como um verdadeiro trauma em suas vidas …
Évry, 5 de dezembro de 2013
* Entrevista disponível no blog das 43o. Jornadas da ECF:
http://www.journeesecf.fr/ (Acesso direto ao vídeo: http://www.journeesecf.fr/?s=zamora)
*****
A Tsarine de Constance Delaunay
Luc Garcia
Sabemos que uma Rainha conhece pouco de maldições. Ela é a exceção atribuída ao lugar comum. Que atravessa os séculos. Que resplandece à noite na praça Vendôme. Que abre o frasco de um Chanel n. 5 sobre a esplanada do Trocadeiro frente um lobo respeitado. E a ponte Alma, não muito longe, iria se interpor, a imagem desta Rainha será renovada. Aliás, não é nem mesmo necessário que ela use uma coroa, o futuro que nunca chega mesmo, também lhe cai bem.
 Uma monarquia hereditária lhe daria luz a um bebê, Jacques-Alain Miller lembra o quanto esse bebê “é como todos os bebês, mas ele é também o lugar de um mistério profundo. Com efeito, dois corpos se unem nele: um corpo mortal, como todos, e um corpo imortal, simbólico, aquele que encarna a perenidade do reino” (1).
Uma monarquia hereditária lhe daria luz a um bebê, Jacques-Alain Miller lembra o quanto esse bebê “é como todos os bebês, mas ele é também o lugar de um mistério profundo. Com efeito, dois corpos se unem nele: um corpo mortal, como todos, e um corpo imortal, simbólico, aquele que encarna a perenidade do reino” (1).
Enquanto Constance Delaunay desenha um retrato, e o qual ela o chama de A Tsarine – ela escreve que chamava assim sua mãe- ouviremos que o tom não é de fato o mesmo.
Sim, após a Tsarine, não tivera mais outra.
É aquela que está pronta para que povo zombe de sua chegada, ao lado de seu futuro marido na procissão que enterrava o pai dele, Alexandre III. Aquela, então, que chegou atrás de um carro fúnebre, e cuja morte equivaleria por muito tempo a este alívio, diante de tantas agonias misturadas com o patético, definitivamente dedicada ao pronunciar o que chamamos de louvor fúnebre.
Ou então o que se ouve como sendo uma homenagem.
De resto, não existe vacina nestas matérias. Pois, a mão de escrita de Constance Delaunay, exclusivamente autora, desapareceu em julho de 2013. E o rigor ao qual ela nos convida aqui, é que antes de tirar um tapete bem vermelho para glorificar um talento certo, nos cabe lê-lo; e então, sete anos após a publicação do livro, é a idade da razão como se diz.
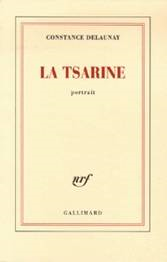 Pois, a Tsarine não é uma bandeira óbvia, e esta bandeira real seria uma mistura desta Europa que era eslava ou mesmo húngara e desta Europa que não o era; a Tsarine de Constance Delaunay não conhece um lugar. É uma mistura, uma dissimulação, uma última ironia: a de chamar sua mãe assim. “E também por abrir a obra para um diálogo, algumas trocas da autora com sua filha, por aqui e por ali, que encontraremos frequentemente neste livro que pesa muito mais que suas cem páginas. “Minha mãe, um monstro? Talvez, mas muitas outras coisas também: uma atriz consumada, uma mulher de deveres, uma viúva sedutora, uma burguesa convencional, uma Judia antisemita, uma mulher-criança, uma madrasta ignorada, uma educadora atípica, uma jovem caprichosa, imprevisível, louca. Eu tive a chance de ter uma mãe como ela, isto não é para todo mundo”.
Pois, a Tsarine não é uma bandeira óbvia, e esta bandeira real seria uma mistura desta Europa que era eslava ou mesmo húngara e desta Europa que não o era; a Tsarine de Constance Delaunay não conhece um lugar. É uma mistura, uma dissimulação, uma última ironia: a de chamar sua mãe assim. “E também por abrir a obra para um diálogo, algumas trocas da autora com sua filha, por aqui e por ali, que encontraremos frequentemente neste livro que pesa muito mais que suas cem páginas. “Minha mãe, um monstro? Talvez, mas muitas outras coisas também: uma atriz consumada, uma mulher de deveres, uma viúva sedutora, uma burguesa convencional, uma Judia antisemita, uma mulher-criança, uma madrasta ignorada, uma educadora atípica, uma jovem caprichosa, imprevisível, louca. Eu tive a chance de ter uma mãe como ela, isto não é para todo mundo”.
Antes da Tsarine, também não houve mais outras, já que ela sempre será a última, e então também a única. Ela acompanha as velhas Inglesas que escrevem romances policiais, os cargos superiores e suas esposas (ou, sobretudo, o contrário), os amigos, as filhas, os homens de partido, as viúvas da Aix-les-Bains, as feiticeiras ou as fadas malvadas dos pesadelos, que desfilam e elas mesmas se ignoram. Os enganos femininos que acontecem elegantemente para camuflarem suas dissimulações em constantes guerras, sem nem mesmo recorrer para isto às aparências jupterianas sobre o Olimpo de suas ilusões, na diagonal destas vidas que se cruzam, mas que não se reencontram. Tais são os disfarces da inexistência do Outro que são frequentemente, àqueles primeiro de cada uma, mulher, deste retrato de múltiplas facetas. Ler o livro várias vezes, e na verdade, nunca terminamos de relê-lo.
Embora o livro se baseie em uma geografia onde estávamos entediados em um terraço de onde se via ao longe o Parlamento de Budapeste, e se aquela geografia não existe mais, ao redor da Tsarine não há mais história, nem mesmo biografia. É nisto que A Tsarine de Constance Delaunay é de início uma experiência que é uma luta da autora, entre ela e um presente necessariamente derrisório. A queda será cruel no momento em que A Tsarine deve ir visitar uma prima em Israel.
Decididamente, é de se pensar que uma mãe que viveu na primeira metade do século XX, somente poderia tropeçar na segunda metade, na qual só subsiste uma escrita, a correspondência com esta prima que decidiu se instalar em um kibutz. Essas mães que sempre conhecem outra mulher em um kibutz, e falam disso com uma curiosidade cega.
Da Tsarine, diremos com Lacan: “Seus ditos só podem completar-se, refutar-se, inconsistir-se, indemonstrar-se e indecidir-se a partir do que ex-siste das vias de seu dizer”… De Constance Delaunay, será dito que é com este exercício que ela atribui à escrita, já que toda obra se situa em nuances de contornos, procedendo de uma metonímia singular em torno destas figuras de mulheres, da Tsarine, dela mesma, de sua filha. E se às vezes, sentimos, para não dizer frequentemente, esta exasperação da existência no sentido das atualidades “que passam enlaçadas com seu cortejo de atentados, massacres, fomes […] “nos quatro cantos do hexágono”, dizem alguns jornalistas”, com seus incômodos, cuja autora escreve que ela se pergunta por que ela nota essas coisas que todo mundo sabe, é provavelmente também, como o especifica Lacan um pouco mais adiante, que “É essa a super-meutade [surmoitié] que não se supereu-iza [surmoite] tão facilmente quanto a consciência universal” (2).
Entre a História e a história, existe doravante uma Tsarine que não se parece com nenhuma outra, o livro produz esta viragem: não se pode mais conceber a imagem acústica Tsarine sem encontrar outro eco, que o ligue a este kibutz onde ela queria ir – ela diz – ou, senão ela, ao menos seu personagem.
Constance Delaunay, La Tsarine, portrait, Gallimard, 2006, Paris
Encontrar estas obras publicadas em Gallimard, ici
(1): http://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Decryptage-l-enfant-roi-du-monde-2548962
(2): Lacan J., Outros escritos, “O Aturdito”, Jorge Zahar Ed, 2003, Rio de Janeiro, p. 469
*****
O traumalógico
Fouzia Liget
“A virulência do logos” (1) da qual fala Lacan no Seminário VI indica a força do verbo – virulento significa, segundo o Littré, “alguma coisa dotada de um poder infectante e patogênico, sofrível, duro, violento”.
Toda a fineza de Lacan foi fazer perceber o poder destruidor das palavras. É a partir da clínica que Lacan o dissipou e que se compreende melhor o imperativo que empurra o sujeito autista a se proteger com seu corpo e com gritos – proteger-se não do Outro enquanto pessoa, mas da materialidade do verbo, das palavras que constituem a palavra endereçada. No fundo, o autista testemunha a virulência do verbo quando o sujeito é desprovido de defesa – aquela do fantasma que protege desta violência inerente ao logos encarnada na presença do Outro, que não para de falar, de demandar. Se ele se protege destas palavras endereçadas, é que elas e ele são violentas, até mesmo o mutilam. A falta do véu fantasmático que recobriria a virulência inerente ao logos, o sujeito somente tem o recurso de se defender pelos meios da borda: estereotipias, repetições de palavras mais ou menos superegóicas, etc. É assim que Pierre, o qual eu encontro em uma instituição, fala-se, quando é confrontado com a angústia consecutiva a um excesso de presença, e de crianças, e da equipe: “Pierre, não tenha medo!”, “Pierre, não faça besteira!”, “Você escuta”, “Não chore, isso vai passar”.
Ele se defende também com o recurso do objeto como véu necessário para suportar a presença real do Outro. Para Pierre, trata-se de livros. É com seu livro que ele se endereça a nós, com perguntas que comenta o que faz daquilo que ele vê. Seu livro lhe permite igualmente ultrapassar os espaços e comer com o grupo durante as refeições semanais. Nossa presença é suportável e a troca é possível. O livro tem por função prevenir a angústia suscitada pelo mundo à sua volta. Assim, pelo via do objeto que ele dispõe como defesa, o sujeito autista faz a experiência de um Outro pacificador; além disso, o acesso à linguagem se torna possível.
O sujeito neurótico também não escapa desta virulência do logos. “Em nossas vidas, uma palavra se inscreve, e trata-se de peso, de densidade, de cor, de intensidade” (2), assinala Jacques-Alain Miller, considerando que uma palavra, uma fala, pode provocar um abalo na vida dos sujeitos. As palavras iluminam, esclarecem, ferem, provocam arrepios, emoções, abrem ou fecham. Isso esclarece o poder das palavras, e o quanto o logos e o corpo estão intimamente enovelados e ligados pelo gozo como substância, dando corpo às palavras.
Palavras e corpos estão intrincados em um acordo de gozo – as palavras ressoam em nós em um ponto, constituindo um gozo ignorado de nós mesmos.
Há um isso não cessa de se escrever sobre o corpo do sujeito – os sintomas o testemunham, formando uma escritura sobre o corpo que a análise permite decifrar. Catherine Millot o testemunha em seu romance, Ô Solitude, relatando as circunstâncias que a [fizeram-na mergulhar. N.T.] mergulharam no abismo da angústia quando seu amante Christian a deixa. Suspensa a esta cena – ele desaparece para sempre, engolido pela boca do metrô -, o chão se abre sob seus pés num abismo pronto para lhe engolir. A aflição começara pouco tempo antes da ruptura, a partir de uma palavra pronunciada pelo desajeitado, a palavra amor. A palavra amor tinha uma coloração bem particular para ela, estava carregada de significações pesadas: “o amor era sem esperança desde seu nascimento, e se resumia a submeter-se a esta lei implacável” (3). O amor estava amarrado a este poder que ela lhe atribuía, de se aniquilar. Então, esta palavra ouvida havia começado a cavar seu rastro, deixando o sujeito no mutismo. Ela ganha corpo quando Christian a deixa, como uma evidência.
O que esta palavra amor abriu nela? Ela dá a chave, em seu livro, Abîmes ordinaires, (Abismos ordinários) escrito dez anos antes. Sua aflição, após o acontecimento contingente das palavras do amante caloroso, lembra um acontecimento traumático antigo, do qual se forjou o fantasma de ser uma condenada, uma rejeitada – fantasma atualizado durante sua análise com o Dr. Lacan: “o fantasma de condenada, até mesmo “maldita”, se construiu para mascarar uma realidade mais trivial, a do abandono que, por ser mais simbólico do que real, não tinha sido menos efetivo” (4). O ideal do pai se realizava ao preço da feminilidade – feminilidade negada como qualquer sexualidade. Além de ser uma rejeitada, ela testemunha do preço a pagar por te sido isenta da castração pelo pai. Assim, ela diz, com nove anos de idade, diante de seu choro, o pai a retira da escola, tornando-se seu preceptor. Este ato paterno tinha valor de dom de amor – ele dava o que não tinha, seja o poder de isentá-la da lei comum, a da castração (5). Esta liberdade tinha o seu revés no preço alto, mantido por muito tempo, o da solidão.
O fantasma é a janela a partir da qual o sujeito olha o mundo, encontrando ai um lugar suportável face à virulência do logos. O fantasma vem como defesa contra o real traumático da língua – real encarnado assim que o sujeito é confrontado ao desejo enigmático do Outro. O que quer o Outro? Engolir-me, devorar-me? Face ao desejo enigmático e opaco, o sujeito neurótico tece um véu, uma tela feita de significantes, vindo recobrir o furo prestes a lhe engolir. O sujeito neurótico consente a certa perda, e o gozo se humaniza pelo véu do amor e do desejo. O fantasma é então enquadre, janela, que permite o sujeito ler o mundo. Ele é o quadro sobre o qual cada um escreve sua história, onde se aloja o coração de suas ficções – necessariamente; a realidade de cada um é, então, uma realidade subjetiva. Assim, uma palavra, uma frase, pode abalar, fazer vacilar. Mas não qualquer palavra, a que entra em ressonância com os significantes íntimos do sujeito.
O sujeito autista, por sua recusa em se ligar ao Outro da linguagem não tem nenhum recurso para humanizar o gozo. Sendo o mundo logos, ele só pode escapar de outra maneira, tentando manter o Outro à distância, ou a ele se conectar pelo recurso do objeto, vindo como um escudo para prevenir a aflição do sujeito que suscita a virulência do logos. Por isso é essencial para ele que seu objeto seja respeitado. Ele é tão vital quanto o fantasma o é para o sujeito neurótico!
1: Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, « La forme de la coupure », leçon XXI, Paris, La Martinière / Le Champ freudien, 2013, p. 448, tradução livre do tradutor.
2: Miller J.-A., « Vers la contingence », lição de 6 de maio de 1998, Orientação lacaniana. Inédito.
3: Millot C., Ô Solitude, Gallimard, Paris, 2011, p. 49.
4: Millot C., Abîmes ordinaires, Gallimard, Paris, 2001, p. 138.
5: Ibid., p. 142-143.







