“Olhei no fundo de mim mesmo, tentando detectar alguma coisa que possa estar ali. Mas assim como nossa consciência é um labirinto, igualmente o é nosso corpo. Para qualquer parte que você olhe há escuridão, e um ponto cego. Em toda parte você encontra sugestões de silêncio, em toda parte uma surpresa espera por você.”
Haruki Murakami em Do que eu falo quando eu falo de corrida. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p. 114.
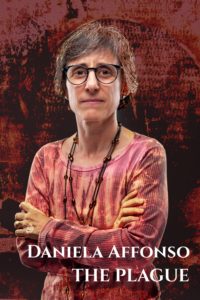 Correr, verbo intransitivo. A intransitividade do verbo não é, neste contexto, mera contingência gramatical. Correr por quê? Correr do quê? Correr para onde? Não foram poucas as vezes que ouvi estas perguntas. Pois a resposta sempre esteve na ponta da língua: corro porque não faz o menor sentido.
Correr, verbo intransitivo. A intransitividade do verbo não é, neste contexto, mera contingência gramatical. Correr por quê? Correr do quê? Correr para onde? Não foram poucas as vezes que ouvi estas perguntas. Pois a resposta sempre esteve na ponta da língua: corro porque não faz o menor sentido.
Parafrasear Haruki Murakami implica enorme responsabilidade. Suas linhas de Do que eu falo quando eu falo de corrida[1] são um tributo à honestidade, à simplicidade, ao mistério da vida. Murakami corre para escrever, e é dessa codependência que trata seu livro. Diferente da maioria de seus outros romances, em que Murakami – um dos maiores romancistas da atualidade – aborda a melancolia, a solidão, a crueldade, amores e desamores, neste ele discorre sobre a crueza do corpo: suas necessidades, reações, dores, surpresas. E o faz a partir do que a corrida lhe causa. Sem ela, a literatura de Murakami talvez não pudesse existir.
“Aqueles dentre nós que alimentam a esperança de ter uma longa carreira como escritores profissionais precisam desenvolver um sistema autoimune próprio, capaz de resistir à toxina perigosa (em alguns casos letal) que reside dentro de nós. Mas é preciso um bocado de energia para criar um sistema autoimune e mantê-lo funcionando por um longo período. Você precisa encontrar essa energia em algum lugar, e onde mais encontrá-la senão em nosso ser físico mais básico?”[2]
Ele a encontra correndo.
O que teria então a psicanálise a dizer sobre corrida? Quando a psicanálise fala de corrida, fala de corpo.
Nós, seres humanos, temos um corpo, diferente dos animais, que são seu corpo. Eles têm a incrível sabedoria dos instintos que os guiam, dando-lhes a certeza do que fazer com seus corpos. Nós, não. Sofremos para descobrir como manejá-los, a educação quer adestrá-los, precisamos da ciência para nos dar instruções, padecemos em hospitais, nos entupimos de remédios e drogas. Tatuamo-nos, nos submetemos a exames invasivos, comemos coisas inacreditáveis. A humanidade usa os corpos em guerras, em sessões de tortura, em experimentos indescritíveis. E também cantamos, dançamos, atuamos, pintamos, esculpimos, escrevemos: fazemos arte. E corremos.
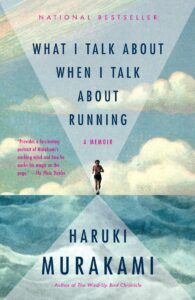 Para piorar, somos bípedes. Observe um guepardo correndo majestoso nas savanas africanas, seu peso harmonicamente distribuído nas quatro patas. Ele foi feito para correr. Temos que carregar todo o peso do corpo em duas pernas, que sofrem tremendamente o impacto do contato com o chão. Não fomos feitos para voar, voamos. Não fomos feitos para correr, corremos.
Para piorar, somos bípedes. Observe um guepardo correndo majestoso nas savanas africanas, seu peso harmonicamente distribuído nas quatro patas. Ele foi feito para correr. Temos que carregar todo o peso do corpo em duas pernas, que sofrem tremendamente o impacto do contato com o chão. Não fomos feitos para voar, voamos. Não fomos feitos para correr, corremos.
O que é o corpo falante? “Ah, é um mistério”, diz Lacan[3]. O corpo do humano, marcado pelo significante, é um corpo tomado como um conjunto de significantes, ou poderíamos mesmo dizer um “corpo falante”. Ele é, portanto, marcado pelo simbólico, mas, ao mesmo tempo, pelo gozo. Este “pequeno” detalhe faz toda a diferença: desarranja, desorganiza, angustia, marca, traumatiza. É assim que “a vida não se reduz ao corpo em sua bela unidade evidente”[4].
O corpo-organismo é inteiramente estranho ao sujeito. O corpo que ele tem é aquele que foi, de alguma forma, vivificado pela língua materna, atravessado pelo significante. O corpo pulsional não é o corpo animal, ele é um organismo desnaturado. O fato de ser falante, lembra Lacan, não deixa o animal humano incólume. Freud, com seu conceito de pulsão, já nos advertia sobre este complicador do humano: conceito fronteiriço entre o físico e o psíquico, a pulsão se localiza no limite entre estas duas instâncias e, portanto, não está em nenhuma delas. O corpo e seus estímulos pulsionais exercem um efeito de exterioridade em relação à unidade narcísica que é o eu, resultando num estranhamento. Não há, portanto, uma relação harmônica, direta, imediata, da subjetividade com o corpo. Daí Lacan esclarecer que a relação do falante com seu corpo não é ontológica, mas sim de propriedade: “UOM, UOM de base, UOM kitemum corpo e só-só Teium [nan-na Kum]. Há que dizer assim: ele teihum…, e não: ele éum… (corp/aninhado). É o ter, e não o ser, que o caracteriza. (…) Tenho isso, é seu único ser.”[5]
Atravessado pela palavra, o ser humano perde sua relação direta com o corpo. Por isso é falta-a-ser: seu ser não é mais identificado ao corpo. Cabe-lhe apenas ter um corpo. O que fazer com ele?
Os corpos se rebelam. Pois não foi assim que as histéricas inauguraram a psicanálise? Seus sintomas corporais, que o discurso médico fracassava em compreender, permitiram que Freud se desse conta de que o registro do orgânico era insuficiente para apreender tais fenômenos e inventou esse dispositivo, que se utiliza de outro registro – o da palavra e do sentido – para encontrar sua tradução.
“A psicanálise pôde começar porque se preocupou, precisamente, com a histeria, e o que caracteriza a histeria é que nela encontramos o corpo doente da verdade. Freud a exprimiu nos termos do recalque e da volta do recalcado. O corpo histérico é aquele que recusa o ‘diktat’ do significante-mestre, o corpo que fixa a sua própria fragmentação e que, de alguma forma, separa-se dos algoritmos, do saber inscrito na própria substância”.[6]
Lacan chamou de “recusa do corpo”, esta recusa do corpo em obedecer ao saber natural, a servir à finalidade de autoconservação, mas também de se adequar aos ditames do discurso do mestre. A experiência com o corpo apresenta esta dupla face – trata-se daquilo que é mais familiar, sede da vida, e, ao mesmo tempo, aquilo que é inteiramente estranho ao sujeito.
A explosiva conjunção da ciência com o capitalismo, cuja face mortífera se apresenta nas novas formas de subjetividade, provindas das vicissitudes do neoliberalismo, em que o objetivo é fazer eclodir o “homem-empresa”[7], leva os corpos ao paroxismo da exaustão, na busca frenética de se “autossuperar”.
O modelo em questão é o da superação de limites, visando à máxima eficiência num regime de concorrência em todos os níveis, que faz parecer – e aí está o pulo do gato – que o próprio indivíduo se favorece com isso, e não os grandes organismos econômicos internacionais, verdadeiro bloco oligárquico que exerce inegável função política na atualidade.
Este sujeito concebido para sua máxima realização requer um discurso gerencial que implica múltiplas técnicas, cujo objetivo é fazer eclodir o homem-empresa: são as “asceses do desempenho”, coaching, programação neurolinguística, análise transacional, saberes psicológicos com modos de argumentação empírica e racional. A fonte de eficácia deve estar no próprio indivíduo e não numa autoridade externa.
Com isso, estes corpos-objeto são levados à exaustão. Extenuados, adoecem, deprimem, morrem.
 No dia 8 de outubro, quando foi anunciado o aumento na tarifa do metrô no Chile, gatilho para as manifestações que ainda chacoalham o país, o ministro da Economia declarou: “quem madrugar será ajudado. Assim, quem sair mais cedo tem a possibilidade de uma tarifa mais baixa”. A fala foi o estopim para incendiar a ira da população, já exangue pelas exigências de máxima produtividade. Acordar ainda mais cedo? Teriam estes corpos atingido o limite da resistência? Mas são estes mesmos corpos que ao se manifestarem – ruas são invadidas de corpos-sujeito que se rebelam da condição de corpos-objeto – são alvo das balas da repressão. Mais de 160 pessoas foram atingidas em seus olhos, ficando total ou parcialmente cegas.
No dia 8 de outubro, quando foi anunciado o aumento na tarifa do metrô no Chile, gatilho para as manifestações que ainda chacoalham o país, o ministro da Economia declarou: “quem madrugar será ajudado. Assim, quem sair mais cedo tem a possibilidade de uma tarifa mais baixa”. A fala foi o estopim para incendiar a ira da população, já exangue pelas exigências de máxima produtividade. Acordar ainda mais cedo? Teriam estes corpos atingido o limite da resistência? Mas são estes mesmos corpos que ao se manifestarem – ruas são invadidas de corpos-sujeito que se rebelam da condição de corpos-objeto – são alvo das balas da repressão. Mais de 160 pessoas foram atingidas em seus olhos, ficando total ou parcialmente cegas.
O que fazer com o corpo, traumatizado pela intrusão da linguagem, perturbado pelas exigências pulsionais, invadido pelo imperativo das demandas de uma época?
Desarranjado por um gozo-excesso cujo efeito era um sentimento de inadequação, extenuado pela constante exigência de saber e de fazer, exaurido pela busca de sentidos, o modo de estar no mundo de meu corpo tinha a marca do sofrimento. A corrida, num primeiro momento, veio como extensão desta cadeia: correr para superar limites, competir, oferecer-se ao sacrifício. Aliás, nada mais propício aos comandos da ideologia neoliberal do que o esporte em sua face de alto desempenho e máxima competitividade. Nada, também, mais consentâneo ao transbordamento gozoso.
Mas, pouco a pouco, a corrida adquire outra cara. O esvaziamento imaginário, o enxugamento do gozo, efeitos da análise, fazem da corrida um lugar em que o corpo fica mais à vontade, distancia-se do sentimento de inadequação e inaugura um saber-fazer: ao invés do sacrifício, da superação de limites, da dor, sobrevém algo de uma satisfação livre do excesso, um saber-fazer cujo efeito é prazeroso. Neste processo, o distanciamento gradativo do Outro permite uma espécie de solidão compartilhada, experimentada quando, por exemplo, no momento da largada de uma prova, somos todos uns-sozinhos, mas, ao mesmo tempo, nos unimos no movimento quase síncrono de nossa respiração.
Hoje, o dia-a-dia como analista praticante parece caminhar lado-a-lado com a corrida, numa relação semelhante, arriscaria dizer, entre a corrida e a literatura, experimentada por Murakami.
[1]MURAKAMI, H. Do que eu falo quando eu falo de corrida. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
[2]Ibidem, p. 86.
[3] MILLER, J.-A. “O inconsciente e o corpo falante” (Apresentação do tema do X Congresso da AMP – “O corpo falante. Sobre o inconsciente no século XXI”).
[4] Idem, “Biologia lacaniana e acontecimento de corpo”. In: Opção Lacaniana, 41, p. 8.
[5] LACAN, J. “Joyce, o Sintoma”. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 561.
[6] MILLER, J.-A. “Biologia lacaniana e acontecimento de corpo”. Opção Lacaniana 41, p. 46.
[7]DARDOT, P. E LAVAL, C. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.








