NÚMERO 357
Eu não teria perdido um Seminário por nada no mundo— Philippe Sollers
Ganharemos porque não temos outra escolha — Agnès Aflalo
– Um real para o século XXI –
O real, um antirracismo inédito*
por Laure Naveau
Dizer que “nosso real”, se vocês me permitem esta expressão familiar, é sem lei, significa inscrevê-lo em um sistema que escapa ao todo da lei simbólica: “Não se trata de produzir aqui a desordem do mundo, dizia Lacan, em seu Seminário XXI, trata-se de ler o não-todo.” (1)
Como indica Jacques-Alain Miller, trata-se de extrair este real de qualquer possibilidade de retificação subjetiva de massa e de inscrevê-lo em um discurso que guarda o poder do que é des-massificante (dé-massifiant) (2).
Nosso real sem lei pode então ser lido assim: somos parlêtres afetados por uma linguagem que põe em trabalho uma falta, e isto, pelo encontro ao acaso de palavras e de corpos. J.-A. Miller designa aos psicanalistas do século XXI a tarefa de substituir as leis loucas da modernidade por outra ordem, a qual consiste em desmontar a defesa contra este real, para alcançar o que faz de cada Um, a sua singularidade, a sua “diferença absoluta”.
Obter a diferença absoluta. Este fio que isolei como bússola como um dos problemas cruciais da psicanálise no século XXI, eu desejo hoje, ligá-lo a um dos problemas cruciais da civilização, o do racismo, cuja atualidade não diminui em nada o seu aspecto estrutural.
“É você, Senhora, bela e de voz forte, que de agora em diante, desejamos escutar”, escrevia recentemente Virginie Despentes em uma carta aberta à Christiane Taubira, em resposta ao seu espanto de que nenhuma voz, “bela e forte”, tenha sido escutada após os insultos raciais dos quais ela foi alvo na França.
Sabe-se, como Marie Darrieusecq indica no Le Monde do dia 15 de novembro, que o racismo somente se porta assim tão bem nos tempos de crise; esta subida do racismo estrutural, tão êxtimo ao discurso profundo de qualquer sociedade, parece representar muito mais sua ordem do que sua desordem, seu S1, seu significante-mestre, como o escrevemos, e que se resume no ódio do Outro.
Vinte anos após o Holocausto, em 1964, não era a toa que Lacan concluía o seu Seminário sobre Os quatros conceitos fundamentais da psicanálise com estas palavras que ficam gravadas no mármore de nossa memória. Eu retomo o essencial:
“Há algo profundamente mascarado na crítica da história que temos vivido. É, presentificando as formas mais monstruosas e pretensamente ultrapassadas de holocausto, o drama do nazismo.
Afirmo que nenhum sentido de história, fundado nas premissas hegeliano-marxistas, é capaz de dar conta dessa ressurgência, pela qual se verifica que a oferenda, a deuses obscuros, de um objeto de sacrifício, é algo a que poucos sujeitos podem deixar de sucumbir, numa captura monstruosa.
A ignorância, a indiferença, o desvio do olhar, podem explicar sob que véu ainda resta escondido esse mistério. Mas, para quem quer que seja capaz de dirigir, para esse fenômeno, um olhar corajoso – e, ainda uma vez, há certamente poucos que não sucumbam à fascinação do sacrifício em si mesmo -, o sacrifício significa que, nos objetos de nossos desejos, tentamos encontrar o testemunho da presença do desejo desse Outro que eu chamo aqui o Deus obscuro”.
Proponho ler aqui o que Lacan já nos introduz com a ideia de um real que ele batiza na época com o nome de “Deus obscuro” e no qual ele colocava os fundamentos da psicanálise. (3)
Dez anos depois, nos lembramos da questão feita por J.-A. Miller à Lacan, em “Televisão”(4) : “De onde lhe vem, por outro lado, a sua segurança de profetizar a escalada do racismo?” E por que diabos dizer isso?” E Lacan, respondendo olho no olho: “Porque não me parece engraçado e, no entanto, é verdade.” Resposta que surpreende muito mais porque ela se inscreve em um contexto que recoloca em questão os fundamentos da verdade…
Lacan diagnostica, naquilo que ele chama de “desatino de nosso gozo”, um modo de gozar do Um como fundamento do ódio do Outro, do racismo do gozo do Outro, aquele do qual estamos separados, e que o tomamos como um subdesenvolvido, o que só pode, com efeito, convocar este retorno ao Deus obscuro.
Eu os envio aqui ao belo artigo sobre o racismo de Manuel Zlotnik, publicado em Scilicet, (5) que acabou de ser publicado com o título Um fio argentino; ele nos lembra que em “O Aturdito”, Lacan situa as raças como efeito de discurso e não de biologia: “a raça de que falo, não é a que sustenta uma antropologia que se diz física […] não é por ai que se constitui raça alguma.[…] Ela se constitui pelo modo como se transmitem, pela ordem de um discurso, os lugares simbólicos, aqueles com que se perpetua a raça dos mestres/senhores e igualmente dos escravos, bem como a dos pedantes, à qual faltam, como garantia, os pederastas e os cientichatos (scients), acrescentaria eu, para que eles não fiquem cientichateados (sciés). Passo então […] da etnografia dos primitivos e do recurso das estruturas elementares, para assegurar o que é o racismo dos discursos em ação”. (6). M. Zoltnik, ao se referir à aula “Extimidade”, de J.-A. Miller, a qual fala sobre o ódio do gozo do Outro (7), deduz daí que a raiz do racismo poderia bem ser o ódio do gozo ele mesmo. Então, ele dá o exemplo do racismo atual argentino que visa à cor da pele e aos “negros” – racismo dos que detêm mais gadgets e objetos técnicos. Nada mais lhe é impossível, mas sobre ele paira uma ameaça vinda do objeto de segregação, o exclui da sociedade de consumo e do mercado de trabalho: ele pode subtrair seu objeto. Na verdade, ele pode roubar seu mais-de-gozar. O rico, prossegue o autor, participa então da segregação do pobre por uma fantasia: querem pegar seu objeto de gozo. E nos fenômenos de violência social, trata-se então de uma luta de morte para o mais-de-gozar e da segregação, antecipada por Lacan em sua “Alocução sobre as psicoses da criança”: massas humanas fadadas à dividir o mesmo espaço geográfico, ficando separadas (8). Assim, conclui M. Zoltnik, a segregação se opera a partir do modo de gozo próprio de cada grupo social.
Isto ilustra, me parece, a reação racista contra Christiane Taubira: certamente, ela é negra de pele, mas o mais insuportável, é que ela seja ministra da República, e que ela ocupe um lugar de poder.
Em sua grande entrevista no Point, em agosto de 2011, intitulado “As profecias de Lacan”, J.-A. Miller já abordava as questões cruciais que ele menciona em sua apresentação do tema do Congresso da AMP: a da tirania do Um, a do poder da ciência e de sua frenesi que confina a pulsão de morte, a do retorno do sagrado e da religião, a do sentido dado a vida como remédio contra a brutalidade do mestre moderno que é a cifra e a do isolacionismo e da escalada do racismo, a do culta à identidade, a da dificuldade de suportar o Outro que não goza como você (que desde sempre existe, da parte dos homens em relação às mulheres)… E quando os jornalistas interrogam sobre os psicanalistas, J.-A. Miller faz também Uns-todo-sozinhos, que se autorizam de si mesmos, de sua análise, antes de serem reconhecidos por um grupo, e que são, segundo ele, mais individualistas do que antigamente. “Se Lacan não era profeta, ele conclui, podemos, contudo, decifrar nosso presente em sua gramática, e vislumbrar a face do futuro que nos espera.”
Contudo, quando já em 1958, Lacan dá seu Seminário VI sobre O desejo e sua interpretação, o Outro é atingido de inconsistência. Pode-se ler ai as premissas de uma desconstrução da lógica do racismo.
Hoje em dia, se o real intraduzível, desmedido e não interpretável é o real de Lacan, sua invenção, seu sintoma, a pedra angular que sustenta seu ensino, nosso encontro para este Congresso é um encontro com o que, do Lacan, tornou-se um sintoma da civilização, seu resto desordenado (9) como o qualifica J.-A. Miller.
Em uma análise, este resto se torna uma bússola que nos orienta e que renova o conceito de inconsciente em direção ao nó fora do sentido, desde que, neste estádio, não haja mais Outro, somente há Um.
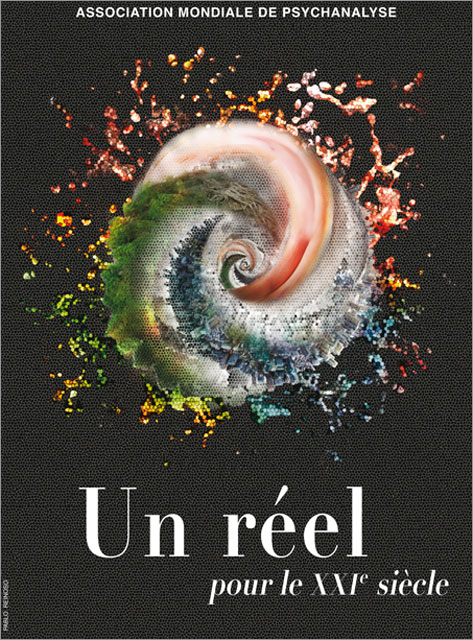 E quando J.-A. Miller dá esta indicação de que não há bem-dizer sem saber ler, e que ele faz valer que se “ a psicanálise toma […] sua partida pela função da fala, […] ela se refere à escritura” (10), à linguagem reduzida à letra” (11), então não podemos nos impedir de ler, nesta palavra “real”, o anagrama perfeito do leer (ler) da língua espanhola.
E quando J.-A. Miller dá esta indicação de que não há bem-dizer sem saber ler, e que ele faz valer que se “ a psicanálise toma […] sua partida pela função da fala, […] ela se refere à escritura” (10), à linguagem reduzida à letra” (11), então não podemos nos impedir de ler, nesta palavra “real”, o anagrama perfeito do leer (ler) da língua espanhola.
No Papers, Mercedes Iglesias mostra como o real da psicanálise é uma desordem no sentido da exclusão-inclusão que ela realiza, na medida em que ele introduz um não existe, uma ausência de saber sobre o ato e uma ausência de relação sexual, ao mesmo tempo em que ele inclui um há com o objeto a (12). E em seu texto de orientação que apareceu no What’s up!, Sérgio Laia propõe considerarmos o real como uma “oferta estratégica da psicanálise lacaniana para o século XXI”, na medida em que esta psicanálise oferece a subtilidade, a fineza de um real que lhe permitirá de sobreviver (13).
Em 1998, J.-A. Miller indicava que a política lacaniana é a preocupação de hoje em dia e de amanhã para a psicanálise; ele já nos convidava à não esquecer esta frase que Lacan pronunciou no momento da Cisão de 1953 na IPA: “O idiota, submetido à psicanálise, torna-se sempre um canalha. Saibamos.”
Esta frase me fez amar ainda mais a réplica: “Eu não temo nem os racistas, nem os sexistas, nem os idiotas”.
Então, chance alguma de psicanalisar um dia estes idiotas, porém, sem ceder na exigência de desmontar o discurso deles, nos fóruns e escritos que eles atacam. Na realidade, não ceder no real em jogo na formação do psicanalista é ouvir, para além da cura, nossa ação no campo social e político. Uma torção se operou: à desordem do mundo que interpretamos, responde-se a desordem da psicanálise, seu real sem lei e fora do sentido. O sujeito da psicanálise é aquele que se posiciona nestas coisas de fineza. Então, poderíamos ler estas tentativas repetidas dos legisladores em reduzir a psicanálise a uma simples terapêutica e de contê-la, como um racismo contra a psicanálise, contra a diferença absoluta e a dignidade do sujeito que ela promove. Nossa posição é fazer disso o negócio de cada um, de não deixar fazer.
Diante do real fugitivo ao qual Lacan se refere na “Terceira” (14), que se sustenta do discurso científico, o analista tem apenas uma missão, como ele o exprime: a de contrariar este real da ciência para desregulá-lo, fazendo surgir este outro pobre real, sem lei, fora do sentido, onde nada mais se espera do Outro.
Assim, o Outro que se apaga, dá lugar a este efeito de furo. Ele faz existir um não há, portador de um antirracismo inédito, no qual cada Um, como nenhum outro, pode alojar seu sintoma, sua solidão, seu exílio próprio à linguagem, sem tomar qualquer Outro, já que ele não existe.
Neste ingresso de humor, um ciclo pode provisoriamente se fechar: se não há o Outro, nem A mulher, e se a verdade de Lacan é como A mulher que não existe, de não ser não toda, diga-se não toda, não há A raça, mas há um real, e um bem-dizer, e há mulheres, corajosas, como Christiane Taubira, para dizê-lo.
* Longo trecho de uma exposição apresentada com o título “Uma outra desordem” na Escola da Causa freudiana, em 25 de novembro de 2013, em uma soirée preparatória para o congresso da Associação mundial de psicanálise, “Um real para o século XXI”.
1 : Lacan J., O Seminário, livro XXI, “Les non-dupes errent”, lição de 23 de abril de 1974, inédito.
2 : Miller J.-A., “Falar com seu corpo”, conferência pronunciada em Bruxelas em 2011, Mental n°27-28, Bruxelles, EFP, p. 129.
3 : Lacan J., O Seminário, livro XI, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p.265-266.
4 : Lacan J., “Televisão”, Outros escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 532.
5 : Zlotnik M., « Racisme (un fil argentin) », Scilicet. Un réel pour le XXIe siècle, vers le IXe congrès de l’Association mondiale de psychanalyse, Paris, ECF-Collection rue Huysmans, 2013, p. 413-414.
6 : Lacan J., “O Aturdito”, Outros escritos, op. cit., p.462.
7 : Miller J.-A., “Orientação lacaniana. Extimidade”, lição de 27 de novembro de 1985, inédito.
8 : Lacan J., “Alocução sobre as psicoses da criança”, Outros escritos, op. cit., p. 361.
9 : Miller J.-A., « Un réel pour le XXIe siècle. Présentation du thème du IXe congrès de l’AMP », Scilicet. Un réel pour le XXIe siècle, op. cit., p. 24.
10 : Miller J.-A., « Lire un symptôme », Mental, n°26, Bruxelles, EFP, juin 2011, p. 50.
11 : Briole G., « Nouages », introduction au volume de Scilicet. Un réel pour le XXIe siècle, op. cit., p. 13.
12 : Iglesias M., « Editorial », Papers n°4, em breve no site congresamp2014.com .
13 : Laïa S., « Une offre de la psychanalyse d’orientation lacanienne pour le XXIe siècle », What’s up !, n°5, setembro de 2013 (disponível no site congresamp2014.com).
14 : Lacan J., « La Troisième », La Cause freudienne, n° 79, Paris, ECF-Navarin, 2011.
——————————
– Psicanálise na universidade –
Comunicado de Gérard Miller
Nosso colega Gérard Miller, professor no departamento de Psicanálise da universidade Paris 8, pede para difundirmos a informação seguinte:
“O ministério do ensino superior e de pesquisa lançou uma vasta consulta, notadamente sobre os títulos do diploma nacional de mestrado, em um documento de trabalho publicado aos seus cuidados no dia 6 de novembro. A menção Psicanálise, presente em um documento anterior na data de 25 de julho, não aparecia mais.
Responsável do mestrado de Psicanálise da Paris 8, eu entrei imediatamente em contato com a presidente de nossa universidade, Sra. Tartakowsky, e então com o chefe de Estado da ministra, o Sr. Fontanille. Na hora seguinte, ele me assegurou por escrito que “o desaparecimento da menção Psicanálise era efeito de um erro material” e que este erro “será reparado na próxima difusão da lista”, o que interessa igualmente nossos colegas de Montpellier 3.
Atualmente, circula uma petição sobre outro problema com o qual a universidade francesa deve lidar, à saber: “a ameaça de desaparecimento do ensino da psicanálise no quadro da formação de psicólogos”. Eu desejo tornar público, com o acordo do Sr. Fontanille, a informação que ele me havia comunicado sobre o mestrado de Psicanálise, que o Ministério quer então preservar, respeitando a psicanálise como disciplina autônoma.”
Saint-Denis, 27 de novembro de 2013
Gérard Miller
– Cena e tela –
Liquidação segundo o romance de Imre Kertész
Atuação de Julie Brochen,
no Teatro Nacional de Estrasburgo
O editor Keserű está convencido de que seu amigo, o escritor Bé, escreveu um último romance pouco antes de se suicidar. Ele se lança na pesquisa desta obra-prima. Pouco a pouco, como um detetive, ele recompõe a vida de Bé.
O texto de Imre Kertész nos leva a uma pesquisa vertiginosa, cuja escrita se mistura intimamente com a vida, onde se descobrem as relações de fascinação, de destruição, de paixão e de amor que ligam os seres a este enigma, que é o escritor Bé. Pouco a pouco, Keserű descobre que a busca de Bé é sobre a origem do ser, da criação e, talvez, através da obra, da imortalidade.
Teatro Nacional de Estrasburgo, de sexta-feira, 29 de novembro à quinta-feira, 19 de dezembro (de terça à sábado, às 20h, sala Koltès) Informações e reservas no número 03 88 24 88 24
Théâtre en Pensées Do romance à cena: Encontro com Julie Brochen (coordenado por Gabrielle Napoli, doutora em literatura comparada) segunda, 2 de dezembro, às 20h.
Bord de plateau Encontro com a equipe artística, quarta-feira, 18 de dezembro, após a representação.
TNS – Entrada livre – reserva recomendada: 03 88 24 88 00
Leitura Kaddish para a criança que não nascerá d’Imre Kertész, por Fred Cacheux (Atores da companhia do TNS). O Kaddish é uma reza dos mortos, na religião judaica. Imre Kertész, escritor húngaro, prêmio Nobel de literatura, tem atualmente 83 anos. Ele conheceu a Auschwitz, Buchenwald, e também quarenta anos de ditadura comunista. Através de suas histórias, lembranças, conversas, o narrador deste kaddish nos diz de seu impedimento em se tornar pai. Ele chora pela criança que não nascerá, e através dele, toda a humanidade.
Livraria Kléber – Sábado, 7 de dezembro às 14h30 – Entrada livre – reserva recomendada: 03 88 24 88 00
 Para ler O homem Kertesz. Variações psicanalíticas da passagem de um século a outro., Nathalie Georges-Lambrichs & Daniela Fernandez [s/dir.], posfácio de Clara Royer, Paris, Ed. Michèle, outubro de 2013. Contribuições de Guy Briole, Daniela Fernandez, Nathalie Georges-Lambrichs, Catherine Lazarus-Matet, Myriam Mitelman, Pierre Naveau, Christiane Page, Daniel Roy.
Para ler O homem Kertesz. Variações psicanalíticas da passagem de um século a outro., Nathalie Georges-Lambrichs & Daniela Fernandez [s/dir.], posfácio de Clara Royer, Paris, Ed. Michèle, outubro de 2013. Contribuições de Guy Briole, Daniela Fernandez, Nathalie Georges-Lambrichs, Catherine Lazarus-Matet, Myriam Mitelman, Pierre Naveau, Christiane Page, Daniel Roy.
——————–
A proximidade do real em Bong Joon-ho
Snowpiercer, Le transperceneige
por Élisabeth Marion
 No último filme de Bong Joon-ho, cineasta sul-coreano, encontramos seu universo particular (1). Snowpiercer nos faz mergulhar em um mundo de abandono, onde seres humanos, feios, perdidos, devem se virar com quase nada, lutar para sobreviver. Com suas colocações de imagens estudadas, a surpresa ou a espera, Bong nos faz ressentir a proximidade do real. Em The host (2), o filme anterior, o real é presentificado pelo monstro que surge do rio, ali onde caminhantes vagueiam tranquilamente. Ele sequestra uma garotinha e a leva nos esgotos onde ele a mantém prisioneira. Em Snowpeircer, o espectador e os personagens são imediatamente prisioneiros do trem. Ele funciona há 17 anos, alguns passageiros nasceram ali e não conheceram o mundo antes. O apocalipse já aconteceu. Que resultado imaginar? A impotência dos heróis, oscilando entre esperança e aflição e colidindo com o horror, é resentida simultaneamente pelos espectadores. O grotesco insiste como uma assinatura do diretor em seus diferentes filmes (3). Ele utiliza com muita fineza aquilo que dá matéria ao real, vem jogá-lo, fazer cair os semblantes. O mal-estar testemunha deste efeito de real.
No último filme de Bong Joon-ho, cineasta sul-coreano, encontramos seu universo particular (1). Snowpiercer nos faz mergulhar em um mundo de abandono, onde seres humanos, feios, perdidos, devem se virar com quase nada, lutar para sobreviver. Com suas colocações de imagens estudadas, a surpresa ou a espera, Bong nos faz ressentir a proximidade do real. Em The host (2), o filme anterior, o real é presentificado pelo monstro que surge do rio, ali onde caminhantes vagueiam tranquilamente. Ele sequestra uma garotinha e a leva nos esgotos onde ele a mantém prisioneira. Em Snowpeircer, o espectador e os personagens são imediatamente prisioneiros do trem. Ele funciona há 17 anos, alguns passageiros nasceram ali e não conheceram o mundo antes. O apocalipse já aconteceu. Que resultado imaginar? A impotência dos heróis, oscilando entre esperança e aflição e colidindo com o horror, é resentida simultaneamente pelos espectadores. O grotesco insiste como uma assinatura do diretor em seus diferentes filmes (3). Ele utiliza com muita fineza aquilo que dá matéria ao real, vem jogá-lo, fazer cair os semblantes. O mal-estar testemunha deste efeito de real.
Este filme nos mergulha em um mundo que sofre de sua negligência. O CW7 é um produto científico que visa reduzir o aquecimento climático, mas, que provoca, contra qualquer espera, uma glaciação. Assim, o filme começa por um erro, um lamentável erro, levando ao fim de nosso mundo. Apenas um trem, produto da engenharia-técnico-científica, resultando do sonho louco de um industrial, Wilford, viaja o mundo a toda velocidade. Este trem, Snowpiercer é o lugar onde sobrevivem os últimos humanos que tiveram que lutar, se matarem para acessá-lo. Fora, o mundo congelado é inabitável. Dentro, na traseira do trem, neste ventre obscuro, a audiência secreta é angustiante, inabitável. Estamos em um mundo estreito, confinado, escuro, sujo, onde os humanos empilhados, aleijados, cegos, em loques. O significante de Lacan, os trumains (4) é particularmente apropriado. Neste grupo de sobreviventes, falta até o essencial. Eles se alimentam de uma massa escura que lhes é distribuída durante um cerimonial grotesco. Entre cada vagão, as portas são blindadas, protegidas por homens aparentemente armados. Às vezes, a porta se abre. Uma mulherzinha gorda, com uma trena na mão, vem medir e pegar as crianças. Outra mulher, de uniforme, com medalhas, representa Wilford. “Passageiros, ela diz, eu tenho um lugar na frente, vocês tem o de vocês atrás, fiquem em seus lugares!” Ela se agita, jorrando frases prontas, bestas. A pantomima do poder é ridícula, absurda, o que torna a situação aterrorizante. Se em seus outros filmes, Bonh Joon-ho nos faz rir, aqui, fazemos caretas, desconfortável. De imediato, a máscara cai. Esta mulher que representa a elite está angustiada, deformada, quase feia, míope, ela usa uma dentadura mal colocada. Para continuar vivendo, ela está pronta para tudo. Assim, Bong faz deste personagem improvável, louco, uma versão desidealizada do destino que bate cegamente, da tiquê, o encontro do real, fora do sentido (5).
Entre estes humanos, alguns deles se revoltam, eles começam ir em direção à frente do trem, a abrir as portas blindadas, uma por uma, a fim de tomar o comando da “máquina”. Na medida em que avançam, de vagão em vagão, é preciso lutar, mas também falar, tentar entender o que aconteceu, para chegar ali. No filme, várias vezes o esquecimento é assinalado. O esquecimento da terra antes da glaciação, o esquecimento do gosto pela carne, o esquecimento que busca à droga. O esquecimento também dos erros, dos sacrifícios ou dos crimes cometidos para viver mais. Bong coloca seus personagens em “situações extremas”, diante da obrigação do ato (6). Ali, eles avançam em direção à frente do trem, mas para chegar onde? Aos poucos, os protagonistas e os personagens sabem mais sobre Wilford, e a verdade está em jogo. Aos poucos, os vagões vão clareando, mais estéticos, mais claros. Atravessamos um vagão jardim, um vagão escola com crianças e a professora delas grávida. Cantam-se louvores para Wilford. Provam-se iguarias. Matam-se os intrusos. O acesso a estes lugares envolve muitos crimes! Nestes vagões, o gozo se mostra em excesso, desumanizado. Seus passageiros, os quais o diretor não distingue uns dos outros, se lançam a um prazer pulsional solitário nas piscinas, sauna, boates noturnas, com balas de drogas nas mãos para profusão, não veem nada, não ouvem nada, sonolentos, empedrados, ausentes de suas próprias existências. Quanto mais a estética é trabalhada – a imagem sustentando as coisas – mais o horror se aproxima, o inominável, o impensável. Para Lacan, “a função do belo (é) precisamente para nos indicar o lugar da relação do homem com sua própria morte (…) num encantamento” (7). Assim, neste filme, a beleza, o designer estético dos vagões da frente, o do esplendor da máquina, se ele esconde o horror, ele nos aproxima. Com este véu, se desenha a verdade do inconsciente, aquilo que foi esquecido. Assim, no último vagão, onde fica o posto de pilotagem, sob o esplêndido taco impecavelmente embutido, debaixo de nossos pés, e que participa do funcionamento tão bem lubrificado da máquina, o que há ali? Levanta-se uma ripa e neste interstício aparece, num atalho entre gozo e pulsão de morte, o avesso da decoração, o que provoca um efeito de angústia repentino.
1 : Snowpiercer, le transperceneige é o último filme de Bong Joon-ho, com Chris Evans e Song Kang-ho (que encontramos em vários de seus filmes, notadamente, em The host). Foi inspirado em Le Transperceneige, desenho francês, de Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, 1984, Casterman.
2 : The Host, 2006.
3 : Memories of murder, 2003, Mother, 2009.
4 : “Há mais que um furo naquele que chamamos homem, isto é mesmo um verdadeiro coador […] porque não escrevê-lo assim: os trumains”. Lacan Jacques, O Seminário XXV, O momento de concluir, lição de 17 de janeiro de 1978, inédito.
5 : Lacan J., Livro XI, Os quatros conceitos fundamentais da psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p. 59.
6 : Entrevista de Joon-Ho Bong por Edouard Brane, 9/12/2009, Paris. www.allocine.fr.
7 : Lacan J., O Seminário, Livro VII, A ética da psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., p. 342 da versão francesa, tradução livre da tradutora.
——————–
Gravity: o trauma da morte
por Claire Zebrowski
O filme Gravity, realizado por Alfonso Cuaron, trata de um trauma. A história: dois astronautas, que operam uma reparação, presos em seus equipamentos, flutuando no espaço. Eles são repentinamente ordenados por sua base para retomar à cápsula para se protegerem dos detritos que flutuam a vários quilômetros por hora na atmosfera; o embarque de urgência fracassa, este fracasso gera um série de peripécias regadas de angústia.
Trauma inaugural
A pesquisadora Ryan Stone é lançada por um detrito, cujo cinto umbilical que a ligava à nave se rompe. Ela flutua no espaço, sozinha, atirada de cabeça para baixo. Resta apenas seu corpo retorcido e sem fôlego. O sentido não está mais ali. Ela está a beira do absurdo, este não-lugar, este fora-do-tempo. Ela flutua no meio do vazio, vazio que ganha rapidamente uma consistência do nada, com seu teor de angústia.
Com o fone de ouvido, a pequena voz de seu parceiro, o tenente Kowalsky, a intimou para localizar um ponto no espaço, a partir do qual ela poderá definir sua posição. Rapidamente ela perde esta voz, mas procura este ponto de fixação psíquico. Durante um tempo, resta apenas uma bússola: a terra e seu corpo sobrevivente: seu suspiro.
Então a voz ressurge no fone de ouvido, e é Kowalsky em carne e osso na obscuridade que vem buscá-la. Tentando atirá-la no vazio, ele fala com ela sem parar – sempre graças ao fone de ouvido -, ele brinca e acaba lhe pedindo: “Por que você está aqui, Ryan? O que te espera na terra? Tem alguém que pensa em você?”. Ryan responde: “Eu tinha uma filha”. Um belo silêncio prossegue.
Kowalsky, contudo tão louco, não pode responder nada; ele apenas a olha, pelo prisma de um pequeno retrovisor, sozinha no espaço.
Angústia e tristeza
O primeiro choque, que isolou Ryan em outra cena, à beira de sua própria morte, a fez trazer do sepulcro esta confissão: Ryan tinha filhinha, que está morta. Esta formulação não é suficiente para cessar a angústia, nem a tristeza.
De um lado, o “eu tinha uma filha” faz aparecer o que não há no lugar onde deveria haver alguma coisa ou ali onde não deveria haver mais nada: não tem uma filha onde deveria ter uma, ou então, ali onde não deveria mais ter uma. Este surgimento da consistência do nada, no lugar vazio, é a angústia. Ryan, “a mulher no meio do nada, mas colada com a angústia”, poder-se-ia dizer.
De outro lado, o “eu tinha uma filha” não é suficiente para liberar Ryan do peso desta perda, pois o enunciado, costumeiramente no imperfeito, tem seu avesso num presente que ainda não está atenuado pelo luto: “minha filha está morta”. Este presente da enunciação, que atualiza a presença do objeto perdido, torna presente como em negativo o que não é.
Será necessário esperar o trabalho da repetição do trauma para que Ryan, infinitamente triste e angustiada, possa dizer outra coisa de seu desejo do que juntar-se ao objeto perdido.
A repetição do corpo ao corpo
Com efeito, em Gravity, o luto de Ryan, não podendo ser inicialmente alcançado pelas palavras, parece apenas que seu corpo, ao se confrontar com um real sempre mais violento, pode tirá-la do abismo da morte. Se o real é o que sempre vem no mesmo lugar, é bem isto com o qual Ryan tem de ser a ver: ela lutou muito, os objetos que carregam a morte a apanham. Durante mais de uma hora, seu corpo é colidido repetidas vezes com as naves espaciais, ele passa de raspão com os detritos que atravessam o universo. Neste espaço fora do sentido que ela atravessa, os dejetos da vida – os detritos que ameaçam sua sobrevivência são restos de uma sonda russa – repetem o confronto com a morte de sua filha. Ryan escuta mal estes detritos, ela não pode dizer nada, pois ela está sozinha e o som não se propaga no universo. Ela apenas os vê chegarem. Ela somente tem seu corpo para escapar neste infinito campo de batalha. Este corpo que é projetado, balançado, congelado…Entretanto, paradoxalmente, a morte iminente não cessa de deixar a Ryan a escolha de morrer ou de viver.
Sair do trauma: com a morte, com a vida
A repetição do trauma poderia ser mortal. Além disso, Ryan, isolada em uma máquina que ela encontrou para se refugiar, poderia escolher a morte. Ela está sozinha, seja na Terra ou no espaço. Aparentemente, ela não tem motivo para viver. Ela não conseguiu superar o trauma da morte de sua filha, viver não serve de nada, ela pensa saber. Ela apaga as luzes e adormece.
Entretanto, não está contando com o inconsciente. Ryan é uma pesquisadora, uma universitária, ela veio no espaço com seu saber, mas sem saber… “o inconsciente não é ambiguidade de condutas, futuro saber que já se sabe por não se sabe, mas lacuna, corte, ruptura que se inscreve em [uma] certa falta” (1). É, sem dúvida, no momento em que a consistência do nada dá lugar para certa falta, na voz de um bebê que chora vindo da Terra e encontrado por acaso pelas ondas de rádio, é neste momento sem dúvida, que uma criança lhe falta, que Ryan Stone pode acomodar um sonho que vai intervir como um corte na repetição do mesmo, reenodando o pedaço de real mortal à dimensão significante da vida.
(1) Lacan J., O Seminário, livro XI, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p.151.
Lacan Cotidiano
publicado por navarin editor
INFORMA E REFLETE todos os dias A OPINIAO ESCLARECIDA










